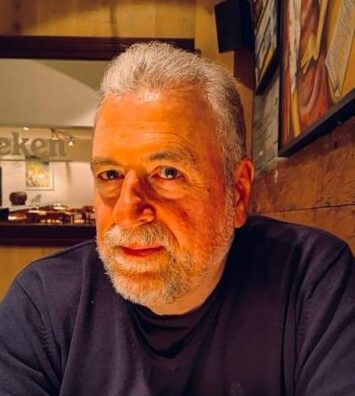Universidade e indústria no Brasil: promessas frequentes, resultados raros
Em sua coluna na Gazeta Mercantil Digital, o prof. Dr. Marcelo Massarani trouxe reflexões sobre a tão necessária ponte entre universidade e indústria.
Gazeta Mercantil Digital, 14/10/2025
Apesar de declarada como prioridade por governo, academia e setor produtivo, a colaboração entre universidade e indústria ainda enfrenta barreiras que comprometem sua efetividade.
A aproximação entre universidades e empresas talvez seja uma das ambições mais reiteradas no discurso sobre inovação no Brasil. De autoridades governamentais a executivos de multinacionais, de reitores a fundadores de startups, todos parecem concordar: é urgente transformar conhecimento em valor, ciência em produto, pesquisa em soluções concretas. Contudo, apesar desse aparente consenso, a prática ainda está longe de alcançar a escala necessária. No Brasil, construir a ponte entre universidade e indústria virou um símbolo de modernidade desejada, mas que segue incompleta.
O problema não é novo e tampouco decorre da má vontade das partes envolvidas. O que se observa é um descompasso estrutural entre os tempos, as prioridades e os sistemas de incentivos que regem os mundos acadêmico e empresarial. Enquanto as universidades operam sob pressões ligadas à publicação científica, captação de fomento e reputação institucional, as empresas trabalham com metas de mercado, retorno sobre investimento e prazos apertados. Esses mundos são legítimos em suas lógicas internas, mas nem sempre dialogam com fluência e, muitas vezes, sequer se encontram.
Há também um fator humano que costuma ser subestimado: a ausência de uma figura capaz de traduzir, negociar e harmonizar as linguagens distintas entre pesquisadores e gestores de inovação. Essa função estratégica, que chamo informalmente de “intérprete institucional”, é raramente prevista formalmente nas estruturas organizacionais, o que fragiliza a interface entre ciência e mercado. Em minha experiência pessoal, participei de projetos em que o potencial técnico era evidente e havia interesse genuíno das partes, mas a ausência de um agente de conexão inviabilizou a continuidade. Faltava alguém com autoridade para costurar interesses e conhecimento para entender ambos os lados.
As dificuldades, no entanto, não se restringem ao plano interpessoal. Há entraves institucionais e legais que dificultam a fluidez da cooperação. As universidades públicas brasileiras, por exemplo, operam sob um conjunto normativo que impõe limites à contratação de projetos, à gestão de propriedade intelectual e até à remuneração de pesquisadores envolvidos em parcerias. Mesmo após o Marco Legal da Inovação, a insegurança jurídica ainda paira sobre muitas iniciativas. Por outro lado, muitas empresas não conhecem os mecanismos disponíveis de fomento e apoio, ou têm receio de investir em projetos com elevado grau de incerteza tecnológica e retorno de longo prazo.
Também existem obstáculos internos nas instituições de ensino. Nas universidades públicas, o envolvimento dos docentes em atividades de ensino e pesquisa costuma ser amplamente incentivado e não sofre restrições formais de tempo. No entanto, as atividades de extensão, que compreendem a interação com a sociedade, a difusão do conhecimento e, especialmente, a articulação com o setor produtivo, estão sujeitas a autorizações prévias, análise de colegiados e trâmites administrativos que frequentemente desestimulam a iniciativa. Em alguns casos, a aprovação de um projeto com empresas pode levar meses, com exigências documentais que contrastam com a agilidade exigida pelo mercado. Esse quadro contribui para a lentidão dos processos e, em última instância, para a perda de oportunidades estratégicas.
Para mudar esse quadro, é preciso ir além do discurso. A começar pela valorização formal de profissionais que atuam na fronteira entre ciência e aplicação. Esse papel precisa ser reconhecido, treinado e incentivado, não como desvio de função, mas como elemento essencial de um ecossistema inovador. Também é necessário reformar os critérios de avaliação acadêmica nas universidades públicas, incorporando indicadores de impacto tecnológico, social e econômico, e não apenas bibliométrico.
No campo legal, o avanço mais urgente é o aperfeiçoamento da aplicação do Marco Legal da Inovação, com orientações claras, segurança jurídica e simplificação de procedimentos administrativos. Muitos projetos morrem não por falta de mérito técnico, mas por divergências interpretativas entre órgãos jurídicos das universidades e departamentos jurídicos do setor privado, o que alimenta um ambiente de incerteza que desmotiva ambas as partes.
Por parte das empresas, é fundamental que exista um comprometimento estratégico com inovação. Isso significa não apenas buscar a universidade como fornecedora de tecnologia pronta, mas como parceira no enfrentamento de desafios complexos. Conhecer instrumentos como a Lei do Bem, os fundos setoriais, os editais de cooperação tecnológica e os centros de pesquisa aplicada é parte do jogo. E, mais importante, assumir que inovar custa, demora e envolve risco, mas não inovar custa mais.
A colaboração entre universidade e indústria não se consolida por decreto. Ela exige mediação, confiança e, sobretudo, persistência. Não se trata apenas de promover a transferência de tecnologia, mas de construir uma cultura de coprodução do conhecimento. O Brasil tem talentos, instituições e desafios suficientes para que essa aliança seja mais do que retórica. Mas isso só acontecerá quando pararmos de esperar que os dois lados se entendam espontaneamente e começarmos a desenhar as pontes de forma profissional, contínua e com propósito.
Marcelo Massarani é Professor Doutor da Escola Politécnica da USP, Diretor Acadêmico da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, membro do Conselho Diretor do Instituto da Qualidade Automotiva e Conselheiro empresarial